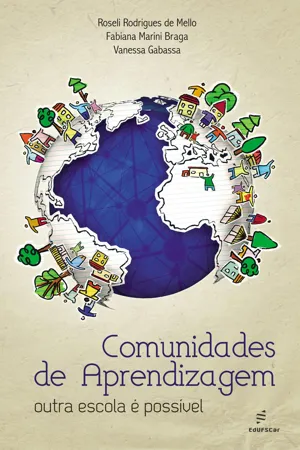De onde vem e para onde vai a escola? Esta é a pergunta que guia o presente capítulo na argumentação sobre a necessidade de transformação das práticas escolares e de sua relação com a comunidade.
A escola que herdamos e que reconhecemos como escola é originária do século XIX, reformulada a partir do advento da revolução industrial. Ela passou, a partir deste advento, a ter a função de formar as novas gerações para o mundo do trabalho e para viverem num modelo de organização social urbana.18 Do final do século XIX e ao longo das décadas do século XX, de maneira desigual, constituíram-se e estenderam-se os sistemas educacionais estatais pelo mundo, dando à escola o feitio que dela conhecemos até pouco tempo: fonte quase que exclusiva de difusão de conhecimento sistematizado e letrado, tendo na professora e no professor seus transmissores. A escola foi responsável pela formação dos indivíduos para se entenderem como membros de uma nação, numa organização institucional hierárquica e monocultural.
Mais recentemente, fins do século XX, os constantes conflitos intramuros e os altos índices de não aprendizagem dos conteúdos escolares, pelas crianças e jovens, denunciam a inoperância do trabalho da escola, pautado nos seus antigos pressupostos. Isto remete a se considerar que o trabalho da instituição, tal qual vinha sendo entendido e realizado, já não atende a demandas e nem a anseios. Assim, é preciso transformar a escola.
Mas, afinal, o que vem ocorrendo?
A discussão sobre a necessidade de mudanças no sistema educacional e na vida das escolas sempre tem sentido social, sendo equivocada e inócua a restrição da temática escolar ao campo dos debates pedagógicos, como se os desafios e obstáculos que se materializam intramuros fossem fenômenos desvinculados do contexto social amplo. Na busca de compreensão das novas demandas e dos novos anseios é que podemos entender os conflitos e desafios enfrentados pela escola na atualidade e argumentar no sentido de que ela precisa transformar seu trabalho numa perspectiva mais comunitária e dialógica.
O atual contexto social e cultural que vivemos desde as últimas décadas do século XX, caracterizado pela reorganização da produção em diferentes territórios e em forma de redes, tendo as novas tecnologias da comunicação e da informação como centro organizativo, tem gerado intensa migração de pessoas pelos territórios e feito, ao mesmo tempo, surgir e ressurgir conflitos e confrontos entre grupos em seus próprios territórios. Ao mesmo tempo, sujeitos e grupos não aceitam mais se submeter a uma ordem formal, preestabelecida, sobre a qual não possam opinar e interferir. Globalismo, sociedade da informação, transculturalismo, multiculturalismo e giro dialógico são elementos do contexto social e cultural na atualidade. Tais elementos são percebidos e sentidos por nós, por diferentes canais, e estão na base das alterações da escola.
Globalização. Crise. Diversidade. Palavras com as quais temos nos encontrado diariamente nos meios de comunicação. São notícias sobre a economia nacional e mundial, sobre as crescentes taxas de desemprego, sobre negociações do governo nacional com instituições internacionais e governos estrangeiros, juntamente com a divulgação de reivindicações de diferentes setores. Informam-nos dos avanços impressionantes das tecnologias, da medicina, da genética, da estética, proporcionados pela ciência. Aparecem as denúncias de falência dos sistemas de saúde (público e particular) e das condições desumanas de trabalho no campo e na cidade, pobreza, desigualdade, violência.
Entre um programa e outro, produtos de toda a natureza são anunciados, na televisão e no rádio, numa diversificação de possibilidades de consumo. Os produtos aparecem também nos noticiários: novos modelos de carros, roupas e sapatos, bebidas e comidas, telefones celulares, aparelhos de som de diferentes tamanhos, casas em condomínio fechado, serviços de segurança, viagens, cursos, tudo incrementando a produção e os serviços e, quem sabe, a possibilidade de trabalho.
Ao mesmo tempo, imagens de outros modos de viver, bastante diferentes dos nossos, se seguem e se repetem na televisão e na internet; também de pessoas, muitas, que tentam entrar em países onde a vida parece estar melhor, ou sair de onde ela parece estar mais difícil. Discussões sobre poluição, controle de tecnologia nuclear, preservação do planeta e dos elementos ambientais (água, por exemplo); conflitos locais, guerras, terrorismo. Todos são temas de programas de debate e de informação e de filmes e novelas. Informação, propaganda e fabulação fazem parte de nossa vida em uma escala nunca antes vista.
No dia a dia, “vida real”, reconhecemos, nas experiências pessoais, pelo menos parte do que se nos apresenta nos meios de comunicação. Convivemos com familiares, colegas, vizinhos e vizinhas, e amigos e amigas que têm emprego, que estão procurando por um, que buscam por um há bastante tempo; que vieram de outro lugar ou que vão partir em busca de melhores condições de vida; que estão estudando ou voltaram a estudar para conseguir ingressar no, ou voltar ao, mercado de trabalho; que estão desempregados, que criaram alternativas e mudaram de ramo, ou que ainda não trabalham e não sabem como será seu futuro.
Se adultas, são pessoas casadas, separadas, solteiras que pretendem se casar, ou não, com ou sem filhos e filhas, compartilhando a casa ou não (o que é mais raro) com outras pessoas; estudando ou não; pessoas que se espantam com as mudanças – porque há algumas décadas nos sentíamos e vivíamos de outra maneira.
Se jovens e crianças, são pessoas que querem seu lugar, querem decidir, já têm existência e reclamam quando as tratamos como puro devir; que vivem infância e juventude, e que possivelmente viverão a vida adulta num mundo de incertezas, universo cheio de perigos e de possibilidades; já não obedecem aos adultos (pais, mães e outros familiares, professoras e professores, etc.) como nós o fazíamos – é o que pensamos ou dizemos a eles e elas, mesmo quando em nossa história pessoal não foi bem assim. Se crianças, estão quase todas na escola; se jovens, podem nela estar ou não, porque nela não chegaram ou porque nela não ficaram.
Neste panorama, quanto mais velhos, ou velhas, mais histórias de contrastes temos a contar: havia mais indústrias e mais empregos; uma pessoa entrava num trabalho e geralmente se aposentava no mesmo lugar; quem tinha oportunidade de estudar até o nível técnico ou superior era respeitado no seu conhecimento – até porque a produção de conhecimento não era tão intensa e, portanto, a formação inicial quase que bastava para uma vida profissional inteira –, quem foi alijado da escolaridade poderia encontrar trabalho em várias atividades. E, (com todos os sentidos que essa palavra carrega) normalmente, era o homem quem tinha trabalho remunerado e fora de casa, e a mulher era quem cuidava dos filhos e da casa. Ou seja, os lugares eram mais estabelecidos, portanto, ofereciam mais condições de nos sentirmos estáveis, seguros…
Nessa história, porém, nos esquecemos que as condições e escolhas não estavam postas para todos e todas: muitos dos movimentos sociais e vozes que vemos e ouvimos hoje – porque estamos num sistema mais democrático e porque os meios de comunicação oficiais ou alternativos os difundem – entoam reivindicações históricas para superação de injustiças e desigualdades antigas (racismo; direito à terra; violência contra mulheres, jovens e crianças; violência no campo, etc.).
No novo contexto, a escola sente essas transformações e é desafiada a recriar-se e criar para superar o discurso nostálgico que valoriza a maneira como ela já foi (hierarquizada, indiscutível em sua autoridade, inquestionável em seu movimento homogeneizante). O discurso nostálgico nos leva ao imobilismo ou à impossibilidade e, por isso, é preciso buscar alternativas, é possível fazer uma escola diferente: iniciativas coletivas e de coletivização, no Brasil e em outros países, têm demonstrado que a criação é possível.
Essas são questões com as quais nos deparamos cada vez que apresentamos a proposta de transformação de escolas em Comunidades de Aprendizagem aos profissionais das escolas e aos familiares das crianças e jovens, aos estudantes de Educação de Jovens e Adultos. Conforme iniciamos o diálogo com eles e elas, depoimentos sobre as desigualdades, os processos de exclusão e desrespeito e a necessidade de escolaridade com qualidade surgem com bastante força. Revela-se, nas palavras das pessoas que se reúnem nas escolas para conhecer a proposta, a compreensão do contexto atual e do papel da escola neste contexto.
No presente capítulo, dedicamo-nos a apresentar elementos do atual contexto, a partir dos quais a proposta de Comunidades de Aprendizagem se justifica. Tais elementos estão organizados em três itens: o primeiro é dedicado aos elementos mais vinculados ao universo social; o segundo, aos elementos do universo cultural; e o terceiro, ao giro dialógico que tem permeado as relações e instituições neste novo panorama.
1.1 Globalismo: globalização e sociedade da informação
Por contexto atual entende-se aqui o momento em que vivemos desde as últimas décadas do século XX, período em que enfrentamos transformações nas relações internas e externas nos e entre os diferentes países quanto ao trabalho e às relações de comércio, bem como nas ações de instituições e dos sujeitos no mundo da vida. Também é nesse momento que o multiculturalismo tem sido intensificado, evidenciando a necessidade de serem feitos acordos que garantam direitos sociais a todas as pessoas, incluindo-se, como diz Flecha,19 o igual direito de ser diferente.
Tal contexto vem sendo gestado desde a Guerra Fria, conforme indica Ianni.20 Porém, foi com o desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e da informação, e sua crescente incorporação às formas de produção e aos meios de vida, que tais características se desenvolveram. A queda do muro de Berlim foi o evento político que favoreceu o estabelecimento das mudanças, encerrando a polarização entre capitalismo e socialismo e propiciando que o capitalismo, como modo de produção, comércio e modo de vida, se aprofundasse intensiva e extensivamente. O antigo bloco socialista transformou-se, a partir daquele momento, num amplo campo produtivo e mercado de consumo; passou a disponibilizar, imediatamente, mão de obra qualificada em grande quantidade para as novas exigências.
Considerando que, além da globalização da economia, outras mudanças ocorreram, Ianni21 denomina o atual contexto de a era do globalismo. Para ele, o globalismo é uma configuração histórico-social abrangente. Enquanto tal, indica o autor, convive com as mais diversas formas sociais de vida e de trabalho, mas também assinala condições e possibilidades, impasses e perspectivas, dilemas e horizontes. Nele, cabem as ideologias neoliberal, socialista, social-democrata, nazista; assim, o globalismo não seria definido pelo neoliberalismo, mas estaria impregnado de tendências ideológicas, num contexto de complexificação econômica, política, social, cultural, geistórica. Carregaria dilemas e tensões que compõem as faces de uma mesma moeda: produtividade, desemprego estrutural, hegemônico-plural, integração-fragmentação, global-local, singularismo-universalismo.
Segundo Ianni,22 as mudanças econômicas e produtivas, na era do globalismo, têm base em meios materiais, em objetos que cada vez mais se tecnificam e possibilitam a configuração e a expansão das novas formas de produção, de comércio, de relações com o mercado de mão de obra. O desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação tornou possível a transmissão de informações e a comunicação em tempo real, concretizando a organização do trabalho de maneira transnacional e em rede, havendo compressão espaço/tempo nas decisões, tanto no espaço privado como no público.
A nova divisão transnacional do trabalho envolve a redistribuição das empresas, corporações e conglomerados por todo o mundo. Ao mesmo tempo, forma-se uma cadeia mundial de cidades globais, “(…) que passam a exercer papéis cruciais na generalização das forças produtivas e relações de produção em moldes capitalistas, bem como na polarização de estruturas globais de poder”.23
Internamente, a reestruturação das empresas, em conformidade com as exigências da produtividade, busca agilidade e capacidade de inovação traduzidas na flexibilização dos processos de trabalho e produção, combinando-se “(…) trabalhadores de distintas categorias e especialidades, de modo a formar-se o trabalhador coletivo desterritorializado”.24
A vida e o trabalho no mundo rural também foram e estão sendo fortemente alterados na era do globalismo, num processo de crescente urbanização e industrialização, provocando o crescimento de migrações de indivíduos, famílias e grupos para os centros urbanos, próximos e distantes, nacionais e estrangeiros. Nesse sentido, estar-se-ia processando a dissolução do mundo rural. Segundo o autor, o que basicamente configura o trabalho no globalismo é o surgimento de novas formas e novos significados para ele.
O trabalho passou a estar submetido aos movimentos do capital em todo o mundo, incluindo as decisões governamentais e as das empresas, sejam elas nacionais ou internacionais – os parâmetros internacionais de qualidade dos produtos (as ISO), por exemplo, guiam e restringem as decisões internas das empresas, incluindo perfil de contratação dos trabalhadores e trabalhadoras.
Uma empresa pode decidir-se a mudar para uma região que lhe ofereça maiores vantagens tributárias, mão de obra mais barata, parque de produção tecnológica disponível a baixo custo. Também pode dispersar sua produção em diferentes espaços (por exemplo, indústria automobilística). Pode, ainda, deixar de produzir partes necessárias ao produto final e estimular a criação de pequenas empresas, por seus ex-funcionários, que lhes abastecerão numa cadeia produtiva; assim, a terceirização da produção e de serviços passa a ser uma forte característica enquanto nova forma de vinculação ao trabalho.
Maior intelectualização das atividades é outra característica do trabalho no globalismo. Ianni25 explica que, na automação, a passagem da máquina-ferramenta ao sistema de máquinas autorreguladas contraria uma tendência que a literatura sociológica vinha indicando, ou seja, de que o trabalho humano se tornaria dispensável ou periférico com a evolução das tecnologias. Ele afirma que, ao contrário, a atividade humana se tornou fundamental e mais intelectual.
As duas características anteriores dão base para a composição da terceira característica do trabalho no globalismo: a flexibilização dos processos. O autor descreve a flexibilização como potenciação da capacidade produtiva da força de trabalho, com uma “(…) racionalidade mais intensa, geral e pluralizada da organização toyotista26 ou flexível do trabalho e da produção”.27 Um mesmo trabalhador, ou uma mesma trabalhadora, tem de ter formação e disponibilidade para compor grupos de trabalho menos hierárquicos, que elaborem soluções para problemas inesperados; trabalhador e trabalhadora têm de ser capazes de desenvolver várias atividades, sendo multifuncionais.
A flexibilização também se manifesta na acumulação do capital. Surgem setores da produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados. O centro da flexibilização está nas taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. Houve a intensificação do setor de serviços, que se diversificou e aumentou a oferta de postos de trabalho, absorvendo parte da mão de obra que antes se concentrava na indústria – neste quadro, destacam-se a educação e o turismo como terrenos de serviços e empregos.
Com a mobilidade de empresas e indústrias para regiões pobres, em busca de mão de obra mais barata e de outros benefícios, assiste-se à movimentação dos trabalhadores por territórios, condicionada pela movimentação do trabalho, criando o que Ianni chama de “reservatório mundial da força de trabalho potencial”.28
Em suma, neste panorama, trabalhador e trabalhadora tornam-se polivalentes; tecnifica-se a força de trabalho, potenciando-a por meio de mobilidade horizontal e vertical. Há, assim, um rearranjo interno e externo da classe operária e impacto em suas formas de organização. Segundo Ianni, desemprego cíclico e estrutural, crescimento de contingentes situados em subclasses, discriminação de todo tipo, migrações, ressurgências e pauperização caracterizam a questão social do trabalho no globalismo.
Recorrendo a autores que analisam as transformações no trabalho, tomando como fator-chave o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da comunicação, outros elementos se tornam visíveis. São autores e autoras que consideram que o acesso, a seleção e o uso adequado da informação são os elementos centrais das mudanças ocorridas e, por isso, caracterizam o novo momento como Sociedade da Informação.
Para Castells,29 o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informações, mas a aplicação desses conhecimentos e dessas informações para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento e comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a informação e seu uso.
O termo informacionalismo é utilizado por Castells para apresentar elementos da realidade histórica que estão associados ao novo paradigma organizacional atual. Afirma tratar-se de redes de empresas sob diferentes formas, em diferentes contextos e a partir de expressões culturais diversas. São redes familiares, redes de empresários, redes organizacionais de unidades empresariais, redes internacionais resultantes de alianças entre empresas, etc. São também ferramentas tecnológicas: novas redes de telecomunicações, novos e poderosos computadores, novos softwares adaptáveis e autoevolutivos, novos dispositivos móveis de comunicação que estendem as conexões on-line para qualquer espaço e a qualquer hora, e novos trabalhadores e gerentes conectados entre si, em torno de tarefas e desempenho, capazes de falar a mesma língua: a língua digital.
O autor acrescenta, ao panorama traçado, a existência de uma concorrência global que força redefinições constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e informacional. Há o fortalecimento da presença do Estado, que pode assumir o papel de desenvolvimentista, agente de incorporação, ou mesmo mensageiro, quando direciona uma economia nacional, ou a ordem econômica mundial, para um novo curso histórico planejado a partir da tecnologia.
Para Castells,30 todos esses elementos são ingredientes do novo paradigma desenvolvimentista, mas há dois aspectos importantes a se considerar para compreendê-lo: ainda lhe falta o elo cultural para reunir os elementos, e, embora o capitalismo tenha assumido novas formas, com profundas modificações com relação à era industrial, esta ainda continua sendo a forma econômica predominante no atual contexto. Assim, tanto o espírito empresarial de acumulação quanto o apelo pelo consumismo é que continuam impulsionando as formas organizacionais e interacionais na Sociedade da Informação.
O autor indica, como elemento distintivo do atual contexto, o fato de, pela primeira vez na história, a unidade básica de organização econômica não ser um sujeito individual, como um empresário ou uma família, nem um coletivo, como a classe capitalista, a empresa ou o Estado. A unidade, em sua análise, é a rede, formada por vários sujeitos e organizações que se modificam continuam...